Programa
PGL510166: O literário como dispositivo discursivo: o campo da literatura como vetor de práticas e questões II
A metamorfologia de Macunaíma: sobredeterminação e abigarramento em Mário de Andrade e precursores
Horário: Quinta, das 09:00 às 12:00
Programa
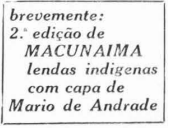 Em uma carta aberta a Raimundo Moraes, Mário de Andrade afirmava que a sua rapsódia era uma grande cópia de inúmeras fontes, com uma exceção: “Meu nome está na capa de Macunaíma e ninguém o poderá tirar”. Quase cem anos depois, o artista macuxi recentemente encantado, Jaider Esbell, em um gesto que desloca radicalmente a agência autoral e a relação entre sujeito e objeto, disse que Makunaimï lhe contou que decidiu colocar o seu nome na mesma capa: “eu me grudei na capa daquele livro. Dizem que fui raptado, que fui lesado, roubado, injustiçado, que fui traído, enganado. Dizem que fui besta. Não! Fui eu mesmo que quis ir na capa daquele livro”. Partindo da identificação das fontes indígenas de Macunaíma realizada especialmente por Cavalcanti Proença e Lúcia Sá, dos desenvolvimentos da etnologia americanista recente e dos estudos de poéticas e literaturas ameríndias, bem como do trabalho de artistas indígenas e da Morfologia proppiana de Haroldo de Campos, o curso pretende ver em Macunaíma uma metamorfologia, i.e., uma obra sobredeterminada por (ao menos) dois regimes enunciativos e discursivos diferentes que transformam um ao outro: o “ocidental” e o “ameríndia”. Para tanto, buscaremos mapear alguns momentos, na literatura brasileira prévia e na sua teorização e historiografia, dessa sobreposição de mundos (que está presente, em maior ou menor medida, de forma mais, menos ou nada consciente, com arranjos formais e de conteúdo – que vão da explicitação à denegação – os mais variados, em toda literatura marcada pelo mau encontro da colonização moderna e que vêm sendo pensada em território andino pela noção de abigarramento, que indica uma mistura heteróclita, não harmônica nem fusional), para entender as diferentes estratégias artísticas, historiográficas e de pensamento mobilizadas e como Macunaíma se situa diante (ou contra) elas.
Em uma carta aberta a Raimundo Moraes, Mário de Andrade afirmava que a sua rapsódia era uma grande cópia de inúmeras fontes, com uma exceção: “Meu nome está na capa de Macunaíma e ninguém o poderá tirar”. Quase cem anos depois, o artista macuxi recentemente encantado, Jaider Esbell, em um gesto que desloca radicalmente a agência autoral e a relação entre sujeito e objeto, disse que Makunaimï lhe contou que decidiu colocar o seu nome na mesma capa: “eu me grudei na capa daquele livro. Dizem que fui raptado, que fui lesado, roubado, injustiçado, que fui traído, enganado. Dizem que fui besta. Não! Fui eu mesmo que quis ir na capa daquele livro”. Partindo da identificação das fontes indígenas de Macunaíma realizada especialmente por Cavalcanti Proença e Lúcia Sá, dos desenvolvimentos da etnologia americanista recente e dos estudos de poéticas e literaturas ameríndias, bem como do trabalho de artistas indígenas e da Morfologia proppiana de Haroldo de Campos, o curso pretende ver em Macunaíma uma metamorfologia, i.e., uma obra sobredeterminada por (ao menos) dois regimes enunciativos e discursivos diferentes que transformam um ao outro: o “ocidental” e o “ameríndia”. Para tanto, buscaremos mapear alguns momentos, na literatura brasileira prévia e na sua teorização e historiografia, dessa sobreposição de mundos (que está presente, em maior ou menor medida, de forma mais, menos ou nada consciente, com arranjos formais e de conteúdo – que vão da explicitação à denegação – os mais variados, em toda literatura marcada pelo mau encontro da colonização moderna e que vêm sendo pensada em território andino pela noção de abigarramento, que indica uma mistura heteróclita, não harmônica nem fusional), para entender as diferentes estratégias artísticas, historiográficas e de pensamento mobilizadas e como Macunaíma se situa diante (ou contra) elas.
Metodologia: As aulas serão expositivas e abertas a questões, colocações e intervenções dos estudantes. Para a plena compreensão das aulas, os alunos deverão fazer a leitura prévia de um texto indicado para cada semana. Presume-se que todos terão (re)lido Macunaíma, de Mário de Andrade.
Roteiro provisório *Obs.: mais próximo ao começo do semestre, ou no primeiro dia de aula, apresentarei um cronograma das aulas, com as leituras a serem realizadas. O que segue abaixo é apenas um roteiro das ideias e questões e da ordem provável em que serão desenvolvidas ao longo da disciplina
A cena dá origem: inscrições indígenas na escrita branca
- O teatro monan de Anchieta
- Kûatiar: a lição de escrita tupinambá
- A cabeça pequena de Macunaímae a cabaça com voz de criança dos karaíba tupinambá
O instinto de nacionalidade como extinção do nativo
- O (não-)lugar das poéticas ameríndias na historiografia literária, de Ferdinand Denis e Gonçalves de Magalhães a Sílvio Romero
- A obsessão nativista e o expurgo dos fantasmas: o indianismo romântico como poética do genocídio
- “Obnubilação brasílica” (Araripe Jr.), contaminação e a ideologia da mestiçagem. Dos tapuya aos tapuyo: a teoria indígena da contra-mestiçagem (José Kelly)
“As canções emigram”: o Brasil é longe daqui
- O estatuto das “fontes” indígenas de Macunaímae de sua autoria: Poranduba Amazonense (Barbosa Rodrigues), Do Roraima ao Orinoco (Koch-Grünberg) e Lendas em nheengatu e em português (Brandão Amorim)
- O procedimento de desgeografização na rapsódia
- Das três raças aos mil povos: Macunaíma como sintomatologia da “imundície de contrastes que somos”
O que é uma muiraquitã?
- A busca (branca) pelo cálice sagrado (Barbosa Rodrigues, Gilda de Melo e Souza, Haroldo de Campos)
- “Não vim ao mundo para ser pedra”: a recusa indígena da pedra fundamental
- A saga da muiraquitã como narrativa das espoliações coloniais
Yara, Amazonas, Itacamiabas: o gender trouble macunaímico
- Mães, Iaras, donos indígenas e “superstições” em “Religião” e Macunaíma
- Inversão etnográfica (“Carta pras Icamiabas”) e inversões míticas (a cidade, de locomotiva à preguiça gigante)
- “Os homens é que eram máquinas e as máquinas é que eram homens”: a crítica xamânico-macunaímica da objetivação.
“Timbó já foi gente um dia que nem nós…”
- Mito maior e mitos menores (Viveiros de Castro)
- Histórias sem fim: os contos etiológicos e o princípio metamórfico formal e material (Lúcia Sá)
- O futuro passado como presente alternativo, ou o destino é a origem: quandose passa Macunaíma?, e a temporalidade da rapsódia
A rede e o papagaio: modos de produção, recepção e disseminação literária
- As quatro posições enunciativas e espaço-temporais da rapsódia: Mário, Macunaíma/Makunaimï, o rapsodo e o papagaio. Trans- e sobre-posição de mundos.
- Da “fala desaparecida” à “fala nova e boa”: a questão da(s) língua(s) e da tradução na rapsódia
- Aparentar(-se) a outro: mimesis branca e “viração” indígena
Bibliografia *Obs.: A lista abaixo é um levantamento preliminar a partir das questões que serão abordadas na disciplina. Até o início do semestre, será feito um recorte e uma seleção dos textos que serão efetivamente trabalhados e escolhidos para leitura semanal.
Alencar, José de. (2006). Iracema: Lenda do Ceará. Apresentação de Paulo Franchetti. Notas e comentário de Leila Guenther. Cotia: Ateliê Editorial.
Anchieta, José de. (1988). Cartas: informações, fragmentos históricos e sermões. Belo Horizonte; São Paulo: Itatiaia; EdUSP.
___. (2006). Teatro. Seleção, introdução, notas e tradução do tupi de Eduardo Navarro. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes.
Andrade, Mário de. (1988). Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Ed. crítica Telê Porto Ancona Lopez. Coleção Arquivos UNESCO.
___. (2017). Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. São Paulo: Ubu
___. (2018). “As canções emigram com extraordinária facilidade, tendo o explorador Koch-Grünberg fonografado melodias do hino nacional holandês até entre índios da Amazônia”. Republicado em https://subspeciealteritatis.wordpress.com/2018/12/11/as-cancoes-emigram-mario-de-andrade/
___. (1935). O Aleijadinho e Álvares de Azevedo. Rio de Janeiro: R.A. editora.
___. (2002). Aspectos da literatura brasileira. 6. ed. Belo Horizonte: Itatiaia.
___. (2015). O turista aprendiz. Ed. Telê Ancona Lopez, Tatiana Longo Figueiredo. Brasília: IPHAN.
___. (2013). Obra imatura. Coord. Telê Ancona Lopez. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
___. (2012). “A língua radiofônica”. In O empalhador de passarinho. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
___. & Bandeira, Manuel. (2000). Correspondência Mário de Andrade & Manuel Bandeira. Edição preparada por Marcos Antonio Moraes. São Paulo: IEB/EdUSP.
___. & Amoroso Lima, Alceu. (2018). Correspondência Mário de Andrade & Alceu Amoroso Lima. Organização, introdução e notas de Leandro Garcia Rodrigues. São Paulo: EdUSP; Rio de Janeiro: Ed. Puc-Rio.
___. & Andrade, Carlos Drummond de. (2015). A lição do amigo: cartas de Mário de Andrade a Carlos Drummond de Andrade anotadas pelo destinatário. São Paulo: Companhia das Letras.
___. & Câmara Cascudo, Luis da. (2000). Cartas de Mário de Andrade a Luis da Câmara cascudo. Introdução e notas por Veríssimo de Melo. Belo Horizonte: Itatiaia.
Antelo, Raul. (1988). Macunaíma: apropriação e originalidade. In ANDRADE, Mário de. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Edição crítica coordenada por Telê Porto Ancona Lopez. Coleção Arquivos UNESCO.
___. (1986). Na ilha de Marapatá: Mário de Andrade lê os hispano-americanos. São Paulo/Brasília: Hucitec, INL, Fundação Nacional Pró-Memória.
Barbosa Rodrigues, João. (2018). Poranduba amazonense – Kochiyma porandub. 2.ed. Organização e apresentação de Tenório Telles. Manaus: Editora Valer.
Bosi, Alfredo. (1996). “Anchieta ou as flechas opostas do sagrado”. In Dialética da colonização. 3. ed., 1. reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, pp. 64-93.
Brandão de Amorim, Antonio. (1926). “Lendas em Nheêngatú e em Portuguez”. Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, 100 (154): 9-475. Disponível em https://etnolinguistica.wdfiles.com/local–files/biblio%3Aamorim-1928-lendas/amorim_1928_lendas.pdf
Campos, Haroldo de. (1973). Morfologia de Macunaíma. São Paulo: Perspectiva.
Castro-Klarén, Sara. (1989). escritura, transgresión y sujeto en la literatura latinoamericana. Tlahuapan: Premià editora de libros.
Cavalcanti Proença, Manuel. (1987). Roteiro de Macunaíma. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
Cornejo-Polar, Antonio. (2003). Escribir en el aire: ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural en las literaturas andinas. 2. ed. Lima: Centro de Estudios Literarios “Antonio Cornejo Polar”; Latinoamericana Editores.
Couto de Magalhães, José Vieira. (1975). O selvagem. Edição comemorativa do centenário da 1a edição. Belo Horizonte; São Paulo: Itatiaia, EdUSP.
Cusicanqui, Silvia Riviera. (2021). Ch’ixinakak utxiwa: uma reflexão sobre práticas e discursos descolonizadores. Tradução de Ana Luiza Braga e Lior Zisman Zalis. São Paulo: n-1 edições.
Denis, Ferdinand. (1968). Resumo da história literária do Brasil. Tradução, prefácio e notas de Guilhermino Cesar. Porto Alegre: Lima.
Esbell, Jaider. (2018). “Makunaima, o meu avô em mim!” Iluminuras, 19(46):11-39.
Fiorotti, Devair Antônio; Flores, Clemente. (2019). Panton pia´: a história do Macunaíma / Makunaimü Pantonü. Boa Vista: Wei.
___.; Silva, Terêncio Luiz. (2019). Panton pia´: Eremukon do circum-Roraima. Rio de Janeiro: Museu do Índio.
Fonseca, Maria Augusta; Antelo, Raul. (2022). Lirismo+Crítica+Arte=Poesia: Um século de Poesia desvairada. São Paulo: Edições SESC São Paulo.
Freud, Sigmund. (2012). A interpretação dos sonhos. 2 vols. Tradução de Renato Zwick. Porto Alegre: L&PM.
Goldman, Márcio. (2015). “Quinhentos anos de contato”: por uma teoria etnográfica da (contra)mestiçagem. Mana, 21(3): 641-659.
___. (2014). A relação afroindígena. Cadernos de campo, 23: 213-222.
Gonçalves de Magalhães, Domingos José. (1836). “Ensaio sobre a História da Litteratura do Brasil”. Nitheroy, Revista Brasiliense. Sciencias, Lettras e Artes. Tomo Primeiro, nº. 1. Paris: Dauvin et Fontaine, 1836, pp. 132-159.
Graça, Antônio Paulo. (1998). Uma poética do genocídio. Rio de Janeiro: Topbooks.
Kelly Luciani, José Antonio. (2016). Sobre a antimestiçagem. Tradução de Nicole Soares, Levindo Pereira e Marcos de Almeida Matos. Desterro: Cultura e Barbárie.
Koch-Grünberg, Theodor. (2022). Do Roraima ao Orinoco. Tradução de Cristina Alberts-Franco. 2. ed. 3 vols. São Paulo: UNESP; UEA.
Léry, Jean de. (1980). Viagem à terra do Brasil. Tradução e notas de Sérgio Milliet. Belo Horizonte; São Paulo: Itatiaia; EdUSP.
Machado de Assis, Joaquim Maria. (1873). “Instinto de nacionalidade”. Disponível em https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/355080/mod_resource/content/1/machado.%20instinto%20de%20nacionalidade.pdf
Makunaimã: o mito através do tempo (obra coletiva) (2019). São Paulo: Elefante.
Maniglier, Patrice. (2005). “Surdétermination et duplicité des signes: de Saussure à Freud”. Savoirs et Clinique, Revue de Psychanalyse, 6:149-160.
Medeiros, Sérgio. (org.). (2002). Makunaíma e Jurupari: cosmogonias ameríndias. São Paulo: Perspectiva.
Müller, Adalberto. (2022). “El secuestro del tupí-guaraní en la formación de la literatura brasileña (momentos decisivos).” Conferência apresentada na conferencia presentada en Universidad de Salamanca. Texto disponível em https://www.academia.edu/85055281/El_secuestro_del_tup%C3%AD_guaran%C3%AD_en_la_formaci%C3%B3n_de_la_literatura_brasile%C3%B1a_momentos_decisivos_
Navarro, Eduardo. (2013). Dicionário de tupi antigo. São Paulo: Global.
Nodari, Alexandre. (2020). A metamorfologia de Macunaíma: notas iniciais. Crítica cultural, 15(1): 41-67.
___. (2021a). Aparentar(-se) a outro: elementos para uma poética perspectivista. Organon, 36(72):306-346.
___. (2021b). “O fim do mato: da história de Lisandro Vega ao romance de Eisejuaz” [posfácio]. In Gallardo, Sara. Eisejuaz. Tradução de Mariana Sanchez. Belo Horizonte: Relicário.
Revista de Antropofagia: 1ª e 2ª dentições. (fac-símile). São Paulo: Abril, Metal Leve, 1975.
Romero, Sylvio. (1902). História da litteratura brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Garnier.
Romualdo Hernandes, Paulo. (2008). O teatro de José de Anchieta: arte e pedagogia no Brasil Colônia. Campinas: Editora Alínea.
Sá, Lúcia. (2012). Literaturas da floresta: textos amazônicos e cultura latino-americana. Rio de Janeiro: EdUERJ (edição eletrônica).
___. (2020). Histórias sem fim: perspectivismo e forma narrativa na literatura indígena da Amazônia.Tradução de Pedro Craveiro. Itinerários, 51:157-178.
___. (2017). “Macunaíma e as fontes indígenas”. In Andrade, Mário de. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. São Paulo: Ubu, pp. 223-240.
Souza, Eneida Maria de. (1999). A pedra mágica do discurso. 2. ed. Belo Horizonte: EdUFMG.
Souza, Gilda de Mello e. (2003). O tupi e o alaúde: uma interpretação de Macunaíma. 2. ed. São Paulo: Duas Cidades, Ed. 34.
Sterzi, Eduardo. (2017). “A irrupção das formas selvagens”. In Andrade, Mário de. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. São Paulo: Ubu, pp. 219-222.
Treece, David. (2008). Exilados, aliados, rebeldes: o movimento indianista, a política indigenista e o Estado-Nação imperial. Tradução de Fábio Fonseca de Melo. São Paulo: Nankin; EdUSP.
Vainfas, Ronaldo. (2022). A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil Colonial. 2. ed. Ed. eletrônica. São Paulo: Companhia das Letras.
Viveiros de Castro, Eduardo. (2002). A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia. São Paulo: Cosac Naify.
___. (2015). Metafísicas canibais: elementos para uma antropologia pós-estrutural. São Paulo: Cosac Naify, n-1 edições.
Vocabulário na Língua Brasílica. 2. ed., revista por Carlos Drumond. São Paulo: 1952. Disponível em http://etnolinguistica.wdfiles.com/local–files/biblio%3Adrumond-1952-1953-vlb/VLBrasilica_2edDrumond_1952_1953_COMPLETE_OCR.pdf
Zavaleta Mercado, René. (2009). La autodeterminación de las masas. Antologia e apresentação de Luis Tapia. Bogotá: Siglo del Hombre Editores/CLACSO.
Zular, Roberto. (2020). No fluxo dos recados: sobredeterminação e variações ontológicas em “O recado do morro” de Guimarães Rosa e A queda do céu de Kopenawa e Albert. Crítica cultural, 15(1): 19-39




